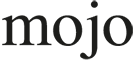Escrito por: Andrew Milner
Traduzido por: Jinnye Melo
A ficção científica sempre foi um gênero definido ad hoc — ou seja, de definição própria. Esse termo surgiu no período entre a Primeira e a Segunda Guerra nas pulp fiction americanas — revistas chamadas mais pela qualidade do papel do que pela literária. Pulp era o papel mais barato da época e o que estivesse impresso nele não era visto de maneira muito diferente. Mas e quanto a “ficção especulativa” e “romance científico”? São termos e gêneros próximos que possuem uma história e futuro em comum.
Hugo Gernsback, editor de pulp fiction, cunhou a palavra “scientifiction” em 1926 no primeiro número da revista Amazing Stories. O termo “science fiction” (traduzido ao pé da letra para o português) em si — claramente um notável aprimoramento — apareceu em 1929 em Wonder Stories, outra revista de Gernsback.
Em seu editorial de Amazing Stories, Gernsback identificava as origem do termo em Jules Verne, na França; H. G. Wells, na Inglaterra; e Edgar Allan Poe, nos EUA. No entanto, comentários mais recentes apontam para Frankenstein, novela de 1818 escrita por Mary Shelley, como o ponto de partida.
Existe ficção especulativa?
Apesar de Gernsbeck — e muitos críticos e fãs — claramente incluírem Verne, Wells e Poe na mesma categoria, um bom número de escritores do século 20 defende uma nova classe de ficção científica.
Em 2011 a escritora canadense Margaret Atwood defendeu que seus romances Oryx e Crake e O Ano do Dilúvio (originalmente publicados em 2009) tratavam de “ficção especulativa”, e não “científica”.
Em In Other Worlds: Science Fiction and the Human Imagination (2011, sem tradução para o português), Atwood define “ficção científica” como livros descendentes de Wells, que lidava com “coisas impossíveis de acontecer”. Já “ficção especulativa”, é definida como descendentes de Verne, que lidava com “coisas que realmente poderiam acontecer em algum momento após a obra do autor”.
Robert A. Heinlein, nos EUA, e Michael Moorcock, na Inglaterra, usaram o termo “ficção especulativa” para denotar uma subcategoria de ficção científica, onde as preocupações centrais eram especulação sociológica, e não inovação científica ou tecnológica.
Em 1969, a escritora e crítica Judith Merril defendeu em sua coluna na The Magazine of Fantasy and Science Fiction que “ficção especulativa” seria uma definição mais precisa que “ficção científica”.
Existe algo bastante peculiar nessa tentativa de homenagear separadamente Verne e Wells: se os críticos acadêmicos e fãs concordam em alguma coisa, é que esses dois mestres do “romance científico” estavam engajados em uma empreitada muito similar.

Romance científico
Não é a primeira vez que autores criam distinções entre diferentes tipos de gêneros literários. Há uma variedade de quase sinônimos para “ficção científica”. O termo usado para anunciar tanto os romances de Wells quanto as de Verne no final do século 19 e começo do século 20 foi “romance científico” (na França, as histórias de Verne eram “viagens extraordinárias”).
Três décadas atrás, o autor britânico Brian Stableford defendeu o termo “romance científico”, em seu ensaio Scientific Romance in Britain 1890-1950 (1985). Seus argumentos foram muito similares aos usados para definir “ficção especulativa” (embora tenha exagerado no patriotismo).
O “romance científico”, de acordo com Stableford, é essecialmente britânico e voltado à especulação intelectual. A “ficção científica” é geralmente estadunidense, repleta de aventura e dispositivos tecnológicos.
Então o que é romance científico/ficção científica/ficção especulativa?
Quaisquer que sejam suas origens, a “ficção científica” é, assim como mitologias, folclores e fantasia, uma ficção cuja narrativa é totalmente dominada pelo que o acadêmico croata-canadense Darko Suvin chama de novum, ou seja, uma inovação ou novidade ficcional não encontrada na realidade empírica.

Porém, ao contrário da mitologia, folclore ou fantasia, esse novum é retratado em compatibilidade com a lógica cognitiva da ciência, como em, por exemplo, uma rebelião de robôs inteligentes ou uma viagem no tempo. Na fantasia, essa compatibilidade não existe, como no caso dos vampiros e lobisomens.
Portanto, ficção científica é, por definição, um tipo de imaginário moderno (e pós-moderno) e pós-iluminista. Está fortemente presente em todos os campos da cultura contemporânea, desde contos e romances até cinema, rádio, quadrinhos, televisão, jogos e música (especialmente rock).
Ficção científica, distopia e utopia
Na prática, a “ficção especulativa” conforme a visão de Merril e Atwood, tende a se aproximar mais do que outros escritores chamam de “ficção científica utópica” ou “distópica”. Utopia é um gênero muito mais antigo que a ficção científica: o termo foi cunhado por Thomas More em 1516, mas é certo que sociedades utópicas foram estruturais no imaginário literário e filosófico desde a Antiguidade Clássica.
Contudo, muitos estudiosos tendem a ver a ficção científica como uma continuação da tradição utópica e distópica. Suvin defendeu em seu Metamorphoses of Science Fiction (1979) que a ficção científica “englobou”, em retrospecto, a utopia, transformando-a no “subgênero sociopolítico da ficção científica”. Essa ideia foi endossada por muitos outros críticos, como Fredric Jameson em Archaeologies of the Future, publicado em 2005. No entanto, isso é provavelmente um exagero.

Ficção científica, utopia e distopia são claramente gêneros cognatos, mas não são coabrangentes. A ficção científica pode ser utópica ou distópica, e utopias e distopias podem ser científicas, mas os gêneros se mantêm distinguíveis, essencialmente pela virtude da presença ou ausência da ciência e tecnologia.
Utopias refletem os tempos
Ficções científicas distópicas e utópicas são, contudo, invariavelmente “especulativas”, pois são inspiradas pelas mesmas esperanças e medos que a política no mundo real.
Assim, as ficções utópicas do final do século 19 eram frequentemente socialistas ( como as de Edward Bellamy, William Morris e Wells).
Distopias anticapitalistas, por outro lado, foram inspiradas tanto pelo socialismo (Jack London) como pelo liberalismo (Karel Čapek e Aldous Huxley). A metade do século 20 também testemunhou um número importante de distopias antitotalitaristas (Yevgeny Zamyatin e George Orwell).
As utopias e distopias do final do século 20 foram frequentemente associadas ao antirracismo (Pierre Boulle e Octavia Butler), ao movimento pelos direitos dos homossexuais (Samuel R. Delany), ao feminismo (Atwood, Ursula K. Le Guin, Joanna Russ e Marge Piercy), ao ambientalismo (Kim Stanley Robinson e Paolo Bacigalupi) e ao anticapitalismo (China Miéville).

Curiosamente, essas utopias mais recentes frequentemente continham temas distópicos significativos; e as distopias retratavam temas utópicos significativos. De fato, pode-se argumentar que uma característica inconfundível da ficção científica do final do século 20 e início do século 21 é justamente sua resolução prática da oposição entre utopia e distopia, ao que o acadêmico e autor Tom Moylan e outros denominaram “utopia crítica” e “distopia crítica”.
O termo “crítica” aqui claramente carrega muito da força pretendida pelo “especulativa” de Merril e Atwood.
Seja “especulativo” ou “científico”, “ficção” ou “romance”, “utópico” ou “distópico”, esse gênero se torna cada vez mais abrangente para as representações criativas dos medos e esperanças mais profundos da nossa cultura.
Andrew Milner
Andrew Milner é professor de Língua Inglesa e Literatura Comparada, na Monash University.
Link do artigo original.
Jinnye Melo
Tradutora.