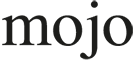Escrito por: Maria Popova
Traduzido por: Ricardo Romanoff, LabPub
Tiranos sempre temem a arte, pois querem confundir, enquanto a arte tende a esclarecer. O bom artista é um veículo da verdade.
“Criar, hoje em dia, é criar perigosamente”, escreveu Albert Camus no final dos anos 1950 ao refletir sobre o papel do artista como voz de resistência. “Em nossa era”, observou W. H. Auden, do outro lado do Atlântico, por volta da mesma época, “o mero fazer de uma obra de arte já é, em si, um ato político.” Essa realidade impiedosa da cultura humana já estarreceu todo artista que, no âmago de sua produção, tenha se aventurado a promover o progresso e a elevar a coletividade à sua volta com o suporte de sua arte. Mas isto é um fato fundamental de todos os momentos históricos e de todas as sociedades. Meio século depois de Camus e Auden, Chinua Achebe destilou a essência dessa desconfortável questão em uma entrevista esquecida a James Baldwin:
Aqueles que nos dizem ‘Não coloque muita política na sua arte’ não estão sendo honestos. Se prestarmos atenção, veremos que essas são as mesmas pessoas que estão conformadas com a situação atual… O que dizem é ‘Não perturbe o sistema’.

Iris Murdoch (15 de julho de 1919 – 8 de fevereiro de 1999) — uma inigualável filósofa com verve poética, foi uma das mentes mais incisivas do século passado — explorou o papel da arte como força de resistência à tirania e veículo de mudança cultural em um discurso memorável à American Academy of Arts and Letters, na primavera de 1972. O texto foi incluído na reveladora compilação póstuma Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature [Existencialistas e místicos: escritos sobre filosofia e literatura].
Duas décadas após o governo comunista soviético forçar Boris Pasternak a rejeitar o Prêmio Nobel de Literatura, Murdoch escreveu:
Tiranos sempre temem a arte, pois querem confundir, enquanto a arte tende a esclarecer. O bom artista é um veículo da verdade que formula ideias que, de outro modo, permaneceriam vagas. Ele atrai atenção aos fatos que não podem mais ser ignorados. O tirano persegue o artista com uma mordaça, tentando aviltá-lo ou comprá-lo. Sempre foi assim.
Em consonância com a afirmação de Baldwin de que “uma sociedade deve se assumir estável, mas o artista deve saber — e nos deixar saber —, que não há nada estável sob o céu”, Murdoch completa:
De tempos em tempos, o artista procura ser revolucionário ou, pelo menos, um instrumento de mudança, na mesma medida em que busca ser um pensador sensível e independente com uma tarefa à margem da sociedade constituída.
Com um espírito que remete ao turbilhão de maldades vexatórias lançado sobre e. e. cummings devido à sua rebeldia visionária em relação à tradição — o que revolucionou a literatura —, Murdoch reflete sobre como a arte muitas vezes catalisa revoluções ideológicas e culturais ao, primeiro, revolucionar a própria forma da arte:
Uma motivação para mudanças na forma da arte sempre foi a própria noção de verdade do artista. Os artistas constantemente reagem à tradição por considerá-la pomposa, arcaica e desconectada… A arte tradicional é vista como grandiosa demais e, portanto, uma meia-verdade.

Murdoch elenca entre os “múltiplos inimigos da arte” não apenas os assédios deliberados de agendas políticas e ideológicas, mas também as dilacerações semiconscientes da tecnologia — a extensão protética da intenção humana, suas consequências imprevistas e seus subprodutos que invariavelmente eclipsam os usos intencionais em sua origem. Em um trecho de pertinência impressionante para nossa pseudorrealidade política atual reforçada por um fluxo incessante de notícias, a autora escreve:
Uma sociedade tecnológica, de forma praticamente automática e sem qualquer intenção maligna, inquieta o artista ao se apropriar e transformar a ideia de ofício e reproduzir infinitamente objetos que não são objetos de arte, mas que às vezes se parecem com eles. A tecnologia rouba o público do artista criando formas subartísticas de entretenimento, oferecendo um grande contra-interesse e uma forma adversa de compreender o mundo.
[…]
A tecnologia continua inquietando o artista e seu cliente não apenas porque de fato ameaça o mundo, mas por tornar a miséria do mundo aparente na tela da televisão. O desejo de atacar a arte, negligenciá-la, feri-la ou torná-la irreconhecível é uma reação natural e, de certa forma, respeitável em relação a esse cenário.
O teorema da incompletude de Kurt Gödel demonstra a existência de verdades matemáticas que a lógica dessa disciplina não pode provar sozinha. Em um paralelo encantador, Murdoch exalta a incompletude como característica distintiva da arte — não uma fragilidade, mas sua força suprema:
“A grande arte — especialmente a literatura, mas também as outras artes — carrega consigo um reconhecimento autocrítico de sua incompletude. Aceita e celebra a desordem e a perplexidade da mente em relação ao mundo. O pseudo-objeto incompleto, a obra de arte, é um comentário lúcido sobre si mesmo… A arte cria um lugar para a precisão em meio ao caos, inventando uma linguagem em que detalhes contingentes podem ser notados de forma afetuosa, e verdades óbvias, constatadas com singela autoridade. A incompletude do pseudo-objeto não precisa afetar a lucidez do modo de falar que incorpora; preferencialmente, os dois aspectos da matéria se apoiam reciprocamente. Nesse sentido, toda boa arte é sua crítica íntima que celebra em seu enunciado simples e verdadeiro a natureza estilhaçada de sua complexidade formal. Toda boa tragédia é antitragédia. Rei Lear. Lear quer encenar a falsa tragédia, o solene, o completo. Shakespeare o força a encenar a tragédia verdadeira, o absurdo, o incompleto.
A grande arte, portanto, (…) inspira a verdade e a humildade.
De modo análogo à poeta Edna St. Vincent Millay, ao classificar uma arte que não a dela como a maior — “Mesmo a poesia, Doce Musa Padroeira, perdoe-me as palavras, não é como a música”, enalteceu a escritora em uma das mais esplêndidas passagens da literatura sobre o poder da música —, Murdoch reconhece o poder superior da arte em detrimento de sua vocação inicial:
A grande arte é capaz de apresentar e debater o espaço central de nossa realidade, nossa consciência atual, de forma mais precisa do que a ciência ou mesmo a filosofia são capazes de fazer.
Uma década e meia antes de Toni Morrison fazer seu espetacular discurso sobre o poder da linguagem ao receber o Prêmio Nobel e um quarto de século antes da declaração comovente de Susan Sontag sobre “a consciência das palavras”, Murdoch escreveu:
Não há dúvidas sobre qual arte, de forma prática, é mais importante para nossa sobrevivência e salvação: trata-se da literatura. As palavras constituem a textura definitiva e a matéria de nosso ser moral, pois são as mais refinadas, delicadas e detalhadas, bem como os simbolismos mais universalmente usados e entendidos por meio dos quais nos expressamos durante a vida. Nos tornamos animais espirituais quando praticamos o verbo. A distinção fundamental só pode ser feita pelas palavras. As palavras são o espírito.

Tomada por grave pesar em meio ao retrocesso civilizatório de nossa triste atmosfera de “fatos alternativos”, Murdoch acrescenta:
A qualidade de uma civilização depende de sua habilidade para discernir e revelar a verdade, e isso depende da extensão e da pureza de sua linguagem.
Todo ditador tenta degradar a linguagem por ser uma forma de mistificação. E muitas das operações quase automáticas da sociedade capitalista industrial também tendem à mistificação e ao ofuscamento da precisão verbal.
Lembrando a famosa aula de 1959 de C. P. Snow, “The Two Cultures” — divisor de águas necessário para encerrar a segregação entre ciência e humanidades, e mesclar investigação com experiência imaginativa –, Murdoch defende que:
Não podemos ser tentados a deixar a lucidez e a precisão apenas para os cientistas. Tudo o que escrevemos deve ser escrito da melhor forma possível, de modo a defender nossa linguagem e oferecer, de forma sutil e objetiva, aquela matéria que é a mais profunda trama de nosso espírito.
Não há duas culturas. Há somente uma, e as palavras são sua base. As palavras são o lugar onde vivemos como seres humanos, agentes morais e espirituais.
Suas palavras finais são um misto de manifesto e bênção – um metatestamento para o poder mobilizador e espiritualizante da grande escrita:
Tanto a arte como a filosofia constantemente recriam a si mesmas ao retornar às coisas mais ordinárias, óbvias e profundas da existência humana, criando espaço para uma fala serena e uma reflexão sagaz, séria e suave. Vida longa a esse espaço tão central, o lar da liberdade e da arte. O grande artista, como o grande santo, nos acalma com lucidez simples e despretensiosa, fala com a voz que escutamos em Homero, Shakespeare e nos cantos gospel. Essa é a linguagem humana da qual todo artista — ou meros usuários da palavra — deve se esforçar para ser merecedor.
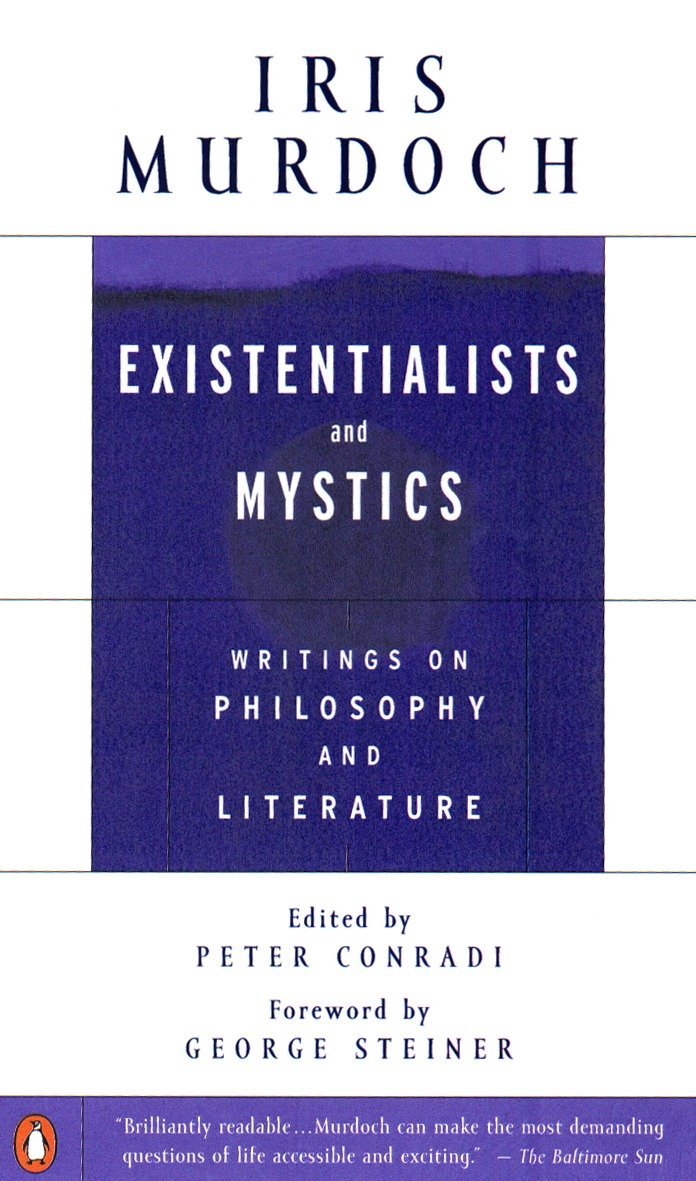
Existentialists and Mystics (Existencialistas e místicos) — que também nos deu a visão de Murdoch sobre narrativas e a chave para a grande escrita — é uma leitura atemporal e incisiva em sua totalidade. Complemente esse fragmento com Toni Morrison sobre o poder da linguagem, depois revisite Murdoch a respeito da causalidade, do acaso, de como o amor confere sentido à nossa existência e suas quase insuportavelmente belas cartas de amor.
Maria Popova
Maria Popova é a criadora do excepcional Brain Pickings.
Link do artigo original.